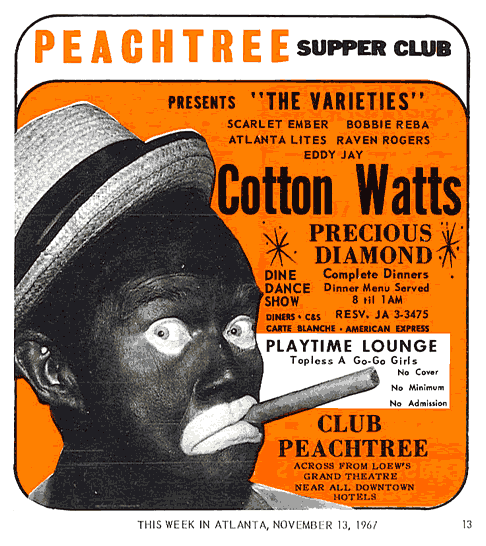Tendo a Cia. Os Fofos Encenam admitido, em nota, que blackface é racismo, espanta-me que queiram desviar o foco do debate, dizendo-se dispostos a dialogar “sobre os caminhos possíveis para as manifestações culturais brasileiras que utilizam também o recurso do rosto pintado de preto”. O assunto é abrangente e bem mais complexo do que imaginam, e já vêm, há tempos, sendo discutido por alguns núcleos de movimentos negros; e ficando restritos a eles, como acontece com quase tudo que é considerado “assunto de negros”. A não ser quando convém. Nesse debate, não manter o foco no uso racista de blackface na peça “A mulher do trem”, na representatividade (como ator/atriz e como personagem) do negro no teatro brasileiro será, mais uma vez, apontar o dedo para o outro e dizer “se ele faz eu também posso”, fugindo do debate necessário que, aliás, também já vem sendo realizado, há décadas, por vários núcleos de militância e de classe artística formados principalmente por negros e por alguns não-negros sensíveis à causa. O resultado disso, e da falta de interesse da classe teatral branca pela dignidade representativa do negro, são os vários grupos de teatro de composição e/ou temática negras, muitas vezes tratados como divisionistas ou radicais. Portanto, nesse caso, interessou-me mais a recepção vergonhosa da classe teatral branca a uma acusação de racismo.
É importante observarmos que tentativas de defesa ou de minimização de atos racistas geralmente são tão ou mais racistas que os atos originais. Nesta defesa do blackface não foi diferente. É o racismo (estrutural ou pessoal) presente na sociedade brasileira que permite chamar de “ignorantes”, “burros” ou “antas” negros que estão falando de um assunto no qual são escolados desde nascença. É o racismo (estrutural ou pessoal) que faz com que brancos pensem que negros não conhecem a origem de atos que os humilham ou ofendem, como também é o racismo que habilita brancos a dizerem com o quê negros podem ou não se sentirem ofendidos ou humilhados. É o racismo (estrutural ou pessoal) que permite que brancos defendam a experiência de terem presenciado um ato racista sem tê-lo percebido ou se indignado com ele, como em “eu vi o filme” ou “eu li o livro” ou “eu vi a peça” e ele ou ela “não é racista”. Porque, na grande maioria das vezes, brancos têm uma ideia bastante própria e distorcida de racismo, que nunca os inclui, mesmo tendo nascido em uma sociedade estruturalmente racista, como são todas as que um dia foram tocadas pela escravidão. Essas sociedades são regidas pelo que o sociólogo e filósofo Charles Mills chama de “O contrato racial”, (nome também de seu livro, pela Cornell University Press), do qual nem todos os brancos são signatários, mas todos, querendo ou não, sabendo ou não, são beneficiários.
Segundo Mills, o racismo é um sistema político e uma estrutura de poder que se baseia em um acordo, geralmente não verbalizado e não questionado, através do qual a elite branca dominante garante para si a maior parte das riquezas e das oportunidades disponíveis na sociedade. No caso desta montagem da peça “A mulher do trem” vejo claramente dois exemplos disso: ao optar pelo clichê “empregados domésticos igual a negros”, reforça-se o estereótipo racista do negro subalterno; e, ao optar pela blackface em vez de artistas negros convidados, não se faz a inclusão e garante renda e oportunidade de trabalho para atores brancos. Não creio que tenham sido escolhas conscientes do grupo Os Fofos Encenam, mas uma das armadilhas de uma sociedade regida por contrato racial é exatamente essa: o não questionamento e a naturalização do status quo, porque assim os brancos podem continuar negando ou ignorando privilégios e benefícios que lhes são concedidos pelo racismo.
Outro exemplo desse processo de negação/ignorância, conferidos pelo privilégio do contrato racial, é um texto que me preocupa bastante, porque escrito pelo professor Zecarlos de Andrade, respeitado na área, formador de opinião e de novos profissionais de teatro. O professor fecha o texto “O negro Hamlet, a mulher do trem e o branco Othello”, publicado em sua página do Facebook, com o seguinte parágrafo: “Se você for portador de um mínimo de inteligência, lute sempre contra o preconceito, mas não faça disso uma bandeira que se erga em qualquer terreno, muito menos naquele que é de todos o mais libertário, como no caso do tablado de um teatro, onde cabem todas as paixões humanas e que, durante milênios, tem ele próprio sido alvo de incontáveis preconceitos, muito embora tenha sempre se oposto a qualquer um deles”. O professor começa chamando de burros aqueles que apontam racismo no teatro, ao que respondo com uma frase atualíssima de Nelson Rodrigues, dita em 1948 em entrevista ao jornal Quilombo, do Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento: “É preciso uma ingenuidade obtusa ou uma má-fé cínica para se negar a existência de preconceito nos palcos brasileiros. Os artistas de cor, ou fazem moleques gaiatos, ou carregam bandeja ou por último, ficam de fora”. Lembro-me de Nelson Rodrigues porque, em meio ao texto, o professor cita a montagem que o diretor alemão Frank Castorf fez de “O anjo negro” (na verdade, em combinação com “A Missão”, de Heiner Müller). A montagem é de 2006, e o professor afirma que, por ter colocado atores negros fazendo papeis de brancos e atores brancos fazendo papeis de negros, “nunca o racismo havia sido mostrado com cores tão nítidas e evidentes”. Penso cá comigo: para fazer tal afirmação, o quanto o professor tem que negar ou ignorar do que foi produzido anteriormente pelo teatro negro brasileiro, por exemplo? E é emblemático que ele tenha escolhido justamente tal peça, ignorando e/ou negando a informação que é realmente importante para este debate.
Nelson Rodrigues escreveu “O anjo negro” por achar um absurdo não haver papéis para negros com “dignidade dramática”, criando Ismael, um homen negro inteligente, de classe média, com profundidade psicológica. Nelson o escreveu para que fosse representado por Abdias do Nascimento, que não foi aprovado pela “comissão cultural” do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A comissão proibiu que o papel fosse representado por um ator negro, explicando para Nelson que “Se fosse um espetáculo folclórico… E há cenas entre o crioulo e a loura. Olhe, que tal um preto pintado?”. E assim foi: sob a direção de Ziembinski, a peça estreou em 1948, com a loura Maria Della Costa no papel de Virgínia e o negro Ismael em blackface feita pelo ator branco Orlando Guy. Sobre tal episódio e o afastamento do negro dos palcos brasileiros, Nelson diz, na mesma entrevista ao jornal Quilombo: “Acho, isto é, tenho a certeza de que é pura e simples questão de desprezo. Raras companhias gostam de ter negro em cena; e quando uma peça exige o elemento de cor, adota-se a seguinte solução: brocha-se um branco. Branco pintado – eis o negro do teatro nacional.” Branco pintado: eis o negro do Os Fofos Encenam, quase 70 anos depois.
O grupo justifica que a adoção do blackface vem de uma tradição entre artistas circenses, origem do diretor Fernando Neves: “a máscara do negro foi forjada por todos os circos e em todos eles apresenta as mesmas características (assim como a máscara da ingênua, do galã, da patroa megera etc…)”. Será que é difícil perceber a origem racista desta tradição entre os artistas circenses brasileiros, visto que enquanto artistas brancos são representados por tipos (a ingênua, o galã, a megera), o negro é o único que representa a si mesmo, como categoria étnica? Ou seja, exagera-se e ri-se do galã, da ingênua, da megera e… do Negro! O professor Zecarlos De Andrade afirma que, “em concordância com a galeria de tipos do circo-teatro (…) Fernando Neves entendeu que seria mais fiel ao modelo original se a mantivesse com a máscara tipificadora da criada negra, como era costume na época.” Mas o interessante é que, em sua tese de doutorado “O teatro no circo brasileiro – Estudo de caso: circo-teatro Pavilhão Arethuzza”, exatamente sobre a companhia da família da qual vem o diretor Fernando Neves, não há nenhuma menção (sim, eu a li inteirinha) à “máscara tipificadora da criada negra” ou mesmo “máscara do negro” ou da negra. Não deveria haver, já que foi forjada por todos os circos e, segundo os defensores do uso do blackface, faz parte de uma tradição importante? A “máscara tipificadora da criada negra” ou a “máscara do negro” foi omitida na tese (se sim, por quê?), ou surgiu agora, para justificar o blackface?
Ou seja, há muito a se debater e esclarecer sobre esse assunto. Fugir dele, apelando para as manifestações culturais, seria assumir a máscara tipificadora do branco que se diz simpático às causas dos negros mas se nega a pensar sobre elas e a assumir seu papel de privilegiado que pode, por causa deste mesmo privilégio, quando se trata de racismo, apontar o dedo para todas as direções, menos para si mesmo.
Imagem destacada: Cartaz, 1967.